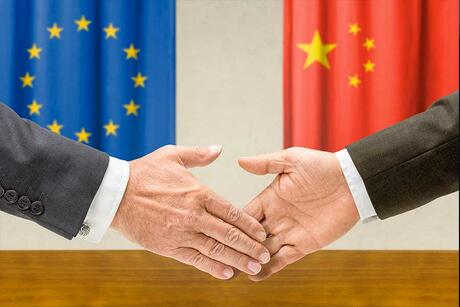Governo coloca planos setoriais em consulta pública
O Governo Federal disponibilizou os planos setoriais de mitigação, que entram em consulta pública a partir de 28 de julho, junto de sua Estratégia Nacional de Mitigação, peça central para o Plano Clima e para a atualização das metas brasileiras no âmbito do Acordo de Paris. Isso marca um avanço institucional relevante, pois pela primeira vez o Brasil apresenta como pretende atingir as metas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) para 2035 de forma detalhada por setor.
Os planos setoriais também definem orçamentos de carbono setoriais. Ou seja, agora será possível enxergar com mais clareza como o esforço de mitigação será distribuído entre os setores dentro da meta que abrange toda a economia. “O Plano Clima avança ao trazer metas de mitigação detalhadas por setor, pela primeira vez desde a adoção da Política Nacional, em 2009. Não se trata de jogar um setor contra o outro, mas de buscar uma distribuição justa e custo-efetiva do esforço nacional”, diz Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa.
O plano prevê que o setor de Agricultura e Pecuária seja o principal responsável por entregar os resultados. Além dele, a Conservação da Natureza “possui papel estratégico na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e no aumento das remoções de carbono”, segundo o Plano Setorial. Conforme a Estratégia Nacional de Mitigação, esses setores relativos ao uso da terra absorverão a maior parte do esforço até 2035. Os demais setores – transportes, cidades e resíduos sólidos e efluentes domésticos – apresentaram metas menos relevantes. Já os setores de indústria e de energia preveem certa estagnação no movimento de transição, sem ambição para avançar de forma consistente.
A proposta ainda está longe de ser o que o momento exige, não apenas por uma questão de ambição mas também de coerência. O plano distribui as duas metas de emissões da NDC (uma mais alta, com 1.050 MtCO₂eq e outra de 850 MtCO₂eq) para cada setor. “Se a intenção é vender créditos de carbono (os chamados ITMOs, do Acordo de Paris), por que o compromisso nacional não pode ser explícito com o valor mais baixo? A margem entre os extremos (por exemplo, de 81 a 115 MtCO₂e para energia em 2035) fragiliza a previsibilidade e enfraquece o sinal político”, pontua Daniela Swiatek, coordenadora de Diplomacia Climática do Instituto Talanoa.
O Plano Setorial de Mitigação para Energia projeta neutralidade até 2050, com medidas como a expansão da bioenergia, do hidrogênio de baixa emissão e do armazenamento. Mas o cenário traçado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para os próximos 10 anos é conservador e projeta aumento entre 1% e 44% das emissões até 2035. O plano define como referência as emissões líquidas de 2022 (80 MtCO₂e), o que significa que mesmo no cenário mais ambicioso, a meta para 2035 representa apenas a manutenção do status atual. No outro cenário, uma não-transição nos próximos dez anos neste setor. O Brasil, que tinha 88% de renováveis em 2024, poderá cair para até 82,7% em 2030 e, mantido esse patamar até 2035, estará regredindo em vez de liderar, principalmente devido a eventos climáticos extremos que exigem maior uso de térmicas fósseis. Em outras palavras: a crise climática causada pelos fósseis pode ser motivo para usar mais fósseis. “Usar a crise climática como desculpa para travar renováveis é dar um tiro no pé. O Plano de Mitigação vê limites, mas o de Adaptação mostra soluções. Mitigação e adaptação têm que andar juntas — não dá pra aceitar contradições dentro do mesmo Plano Clima”, ressalta Natalie.
O trecho que mais assusta é a meta de “manutenção ou aumento percentual da renovabilidade da matriz elétrica” estar condicionada à “viabilidade técnica e econômica”, considerando “os desafios impostos pelas mudanças climáticas” como um possível freio à expansão das renováveis. Ou seja: o plano que deveria impulsionar a energia limpa admite que a própria crise climática pode limitar sua ambição. “Se lermos apenas o Plano de Mitigação, ficamos com a impressão de que o país está de mãos atadas diante da instabilidade climática, a qual tem afetado sobretudo as hidrelétricas. Mas ao cruzarmos com o Plano Setorial de Adaptação do setor de energia, citado de forma tangencial no texto, encontramos outra realidade: um diagnóstico técnico claro de como eventos extremos (como secas prolongadas, ondas de calor e tempestades) ameaçam o sistema elétrico e de como o planejamento energético precisa incorporar resiliência”.
O documento de adaptação propõe integração com setores como agricultura, cidades e transportes, e apresenta ações estruturantes, como o Plano de Recuperação dos Reservatórios de UHEs. Ou seja, a vulnerabilidade do setor não deveria ser considerada um argumento para recuar. O plano setorial de energia de adaptação é um chamado para avançar com mais integração e evidência. Ao tratar a renovabilidade como um esforço que poderá ser “limitado” pelas mudanças climáticas, o Brasil enfraquece justamente seu trunfo estratégico. É preciso dizer com todas as letras: a expansão da energia renovável depende da adaptação e também é uma das formas mais eficazes de promover resiliência. Ao diversificar a matriz, reduzem-se vulnerabilidades e evitam-se emissões futuras. Outro ponto que chama atenção é que o Brasil pretende seguir relevante na exploração de petróleo. A meta para o setor de óleo e gás não é reduzir emissões absolutas, mas apenas a intensidade de carbono por barril produzido. Um tipo de eficiência que, se desacompanhada de limites à produção total, pode aumentar as emissões no agregado.
O Plano quase não dá espaço para tecnologias emergentes, como as baterias que aparecem com papel secundário - propõe-se um marco regulatório até 2030 e a instalação de apenas 800 MW até 2035, uma meta modesta diante do potencial e muito aquém do necessário para dar suporte à expansão renovável em um cenário climático instável. “O plano foca em reduzir a intensidade de carbono por barril, mas ignora o volume total de petróleo, o que pode levar a mais emissões, não menos. E aposta pouco em tecnologias-chave como baterias, quando deveria planejar a transição para o futuro, não reforçar um projeto de desenvolvimento arriscado do passado com o uso de recursos dos contribuintes”, diz Caio Victor Vieira, Especialista em Política Climática do Instituto Talanoa. O plano dialoga com o PDE 2034, mas parece mais orientado por interesses de continuidade do que por uma visão transformadora, estratégica para o futuro do País. O próprio texto do plano admite que parte da ambição possível está condicionada ao que já foi considerado viável no PDE, inclusive no que se refere a custos, cronogramas e incertezas tecnológicas.
Em um cenário fiscal cada vez mais restrito e com reservas fósseis nacionais em processo acelerado de obsolescência, ampliar a participação das fontes renováveis na matriz energética, assegurar sua operação com estabilidade por meio de sistemas de armazenamento, bem como estabelecer um marco legal e as adequadas ações para eliminar o curtailment são questões mais do que estratégicas, são uma condição imediata para garantir a segurança energética do país. Ainda há tempo e espaço para mudanças, sendo a consulta pública é uma chance valiosa para pressionar por isso.
O plano setorial de Conservação da Natureza implementou meta de desmatamento líquido zero até 2030 e iniciativas de restauração florestal como forma estruturante da mitigação. Isso está alinhado à centralidade do uso da terra nas emissões brasileiras e é coerente com compromissos internacionais, com o Planaveg e o novo Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, o PPCDAm. Há propostas relevantes como ampliação de áreas protegidas, recomposição da vegetação nativa, promoção de sistemas agroflorestais e apoio à regularização fundiária. Mas, apesar de reconhecer o Cerrado e a Caatinga, as ações seguem concentradas na Amazônia e pouco específicas no curto prazo. Vale lembrar que o desmatamento no Cerrado é hoje maior que o da Amazônia em números absolutos, e que o perfil de perda florestal naquele bioma é autorizado ou legalizado. Isso impõe um desafio distinto, que exige estratégias próprias, atualizações normativas e maior atenção de curto prazo.
O plano do setor agropecuário traz metas ambiciosas no papel: adoção de tecnologias de baixa emissão em 72 milhões de hectares, recuperação de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas e expansão de 5 milhões de hectares em sistemas integrados. Essas metas, porém, já constavam no Plano ABC+ lançado anteriormente e o novo plano não esclarece se há inovação ou aceleração em relação ao que já vinha sendo feito. O documento também menciona a redução das emissões de metano, tanto entérico quanto proveniente do manejo de dejetos, como resposta parcial ao Global Methane Pledge, compromisso assumido pelo Brasil de cortar 30% das emissões até 2030. Mas, até agora, as ações seguem dispersas, sem metas específicas, instrumentos regulatórios ou incentivos concretos. Além disso, as medidas de monitoramento e transparência permanecem frágeis: não está claro como serão contabilizados os resultados em campo, especialmente nos sistemas integrados e na recuperação de pastagens. Para que o setor contribua de forma justa e eficaz com a nova meta climática brasileira, será essencial transformar essas intenções em mecanismos verificáveis e com responsabilidade compartilhada.